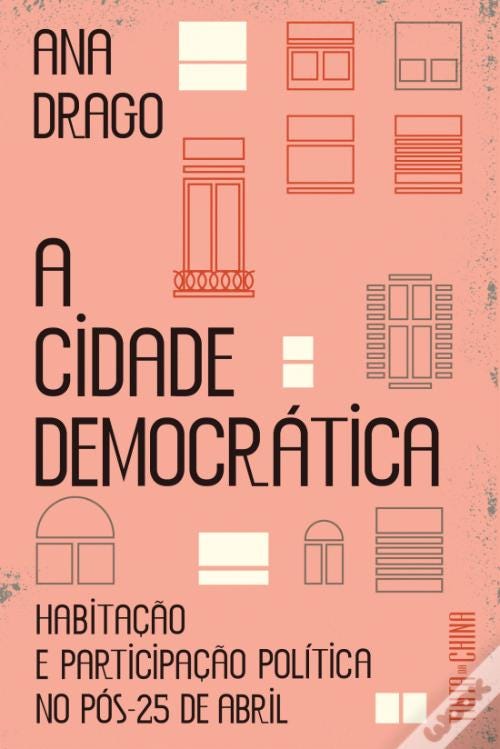Entrevista | “Se há interesses irreconciliáveis dentro da classe média, o regime tem um problema”
Entrevistámos Ana Drago sobre o seu livro “A Cidade Democrática” e atual crise da habitação.
Com os preços da habitação constantemente a bater recordes, os portugueses encontram-se numa crise de habitação que atrofia a forma como a sociedade funciona. Os seus vários desdobramentos vão de falta de professores nas áreas metropolitanas a migrantes com emprego a viver nas ruas.
Neste turbilhão, tornou-se evidente que o Estado português tem pouca margem na provisão na habitação, dado o seu pequeníssimo stock de habitação pública, apesar da habitação ser um direito incluído na Constituição da República. Dificilmente alguém cita a habitação como uma dos grandes legados de Abril, ao lado do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública. Isso não se deve a pouca importância que a habitação teve no processo revolucionário, como ficou registado na cultura popular-revolucionária. Em 1974, Sérgio Godinho cantava “a Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação” e em 1976 Zeca Afonso lançava “Os Índios da Meia Praia”, que evocava os esforços dos moradores dessa zona na construção de habitação sob o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL).
Estas aparentes contradições entre o de facto e o de jure são o pano de fundo de “A Cidade Democrática”, livro de Ana Drago lançado pela Tinta da China em 2023. Em mais de 300 páginas baseadas no seu trabalho académico, Drago guia-nos sobre o longo processo de disputa política pela cidade, em que a habitação tem um papel fundamental.
A República dos Pijamas teve o privilégio de conversar com Drago sobre o SAAL, o papel da habitação no Processo Constituinte, o esvaziamento do movimento popular na luta pela habitação, que resultou numa “democracia de proprietários”, e as particularidades da atual crise habitacional. Para a semana teremos a segunda parte da nossa conversa com Ana Drago, em que falamos da última década da política portuguesa.
As últimas décadas do Estado Novo foram caracterizadas por um ciclo de crescimento económico via industrialização que levou à metropolização do país. Como foi feita a urbanização do país neste período e como é que o Estado Novo olhava para o território?
Na verdade, o Estado Novo tinha, mais ou menos desde os anos 30, aquela política de incentivar as casas económicas, que era a ideia da moradia unifamiliar e, portanto, mais ou menos reproduzir na cidade aquilo que era o modelo de habitação em espaço rural. Mas não era propriamente uma política de provisão habitacional. Era um modelo de pequenos bairros que devia ser, mais ou menos, mimetizado pela iniciativa privada.
A partir do final dos anos 50, vai-se percebendo, em particular a partir dos anos 60, com o surto da industrialização, que a habitação que é oferecida pelos privados claramente não responde àquilo que são as necessidades das novas camadas trabalhadoras. A partir daí o Estado Novo começa, a partir dos anos 50 e dos anos 60, a ter a perceção de que é preciso ter algum tipo de política habitacional, uma coisa que se torna mais importante a partir do marcelismo, até pela ideia do Estado Social que o marcelismo vem a trazer.
E, a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, há a tentativa de desenhar uma política habitacional que não seja esse modelo da moradia unifamiliar, mas a produção de apartamentos em massa, obviamente recorrendo ao privado. Há um conjunto de discussões que vão mostrando que o Estado Novo percebe que a pobreza dos novos segmentos que tinham chegado à cidade para trabalhar era demasiado visível nos espaços urbanos, como uma falência, uma ineficiência do Estado, a que era preciso dar resposta. Embora parte significativa do discurso, curiosamente, veio da ideia de que os arredores de Lisboa estavam a ficar feios e que não era possível que a cidade estivesse a ser construída desta maneira tão desordenada e tão feia, e que era necessária alguma lógica de ordenamento territorial e de provisão habitacional.
E são lançadas as ideias, nos planos de fomento, de que se vai construir 50 mil habitações, primeiro creio que em 68, depois a coisa é retomada, mas, na verdade, o Estado já vivia uma espécie de contradição. Estava colocado no meio de uma guerra colonial e, portanto, grande parte dos recursos para essa tentativa de provisão pública estavam impedidos de ser usados e, portanto, chegamos ao 25 de Abril, acho que a Fonseca Ferreira que diz, com um défice habitacional de 600 mil habitações, essencialmente nos espaços urbanos. O Estado Novo tinha conseguido fazer pouca coisa, além daqueles modelos que depois nós discutimos porque são muito bonitos, que é nos Olivais, aquelas tentativas de dar resposta modernista, mas, de facto, são quase exemplos que estão no território para serem mimetizados pelo privado sem grande capacidade. Portanto, tínhamos em Lisboa 50 mil pessoas só no Conselho de Lisboa a viver em barracas.
O período revolucionário traz consigo vários movimentos populares, como o da ocupação de fábricas e o movimento de ocupações de terras que levou à reforma agrária. Do ponto de vista da habitação e do uso popular da cidade, houveram fenómenos igualmente marcantes?
Sem dúvida, ou seja, a ocupação de casas foi, como eu gosto sempre de lhe chamar, uma das primeiras formas de participação popular no processo de transição democrática. Ou seja, um conjunto de moradores que, na verdade, já tinham a expectativa de vir a ser realojados nesses projetos de habitação social que estavam a ser construídos, toma em mãos o seu destino e vai fazer ocupações. Portanto, as ocupações começam no dia 2 de maio, vão sendo ocupados sucessivos bairros e depois, ao longo de todo o PREC [Processo Revolucionário em Curso], temos este processo, que é a ocupação de casas e a formação das comissões de moradores.
Quando nós olhamos para os diferentes processos da transitologia no sul da Europa nos anos 70, ou seja, Grécia, Portugal e Espanha, este movimento popular dos moradores em espaço urbano é provavelmente uma das dimensões mais excecionais da transição portuguesa, porque dá origem a um espaço de participação, em particular dos pobres urbanos, que não acontece nos outros processos que foram negociados. E em determinado momento, com o documento da Aliança Povo-MFA e com os setores do Movimento das Forças Armadas que caminhavam para a ideia de construir uma democracia popular, articulado pelas comissões de moradores, pelas comissões de trabalhadores, sindicatos, este movimento esteve, eu diria, no centro sobre a disputa sobre qual era o perfil do regime da democracia a construir. E, portanto, é sempre interessante olhar para o que foi esse percurso.
No fim do PREC, na verdade, o movimento dos moradores é um dos grandes derrotados do 25 de novembro. Ainda há, em particular com as tentativas de refrear aquilo que era a iniciativa do SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), alguma tentativa das organizações que coordenavam diferentes comissões de moradores, nomeadamente em Lisboa e nos bairros periféricos, de relançar o processo de mobilização. Mas, na verdade, não tem essa capacidade e, à medida que o regime se vai institucionalizando, este movimento morre. O Pedro Ramos Pinto fez um exercício engraçado, que é ele vai ver quais são as pessoas que estão envolvidas nas comissões de moradores e quais são os candidatos que estão nas primeiras eleições autárquicas, já depois da constituinte, e não há uma transferência. Ou seja, estes movimentos não entram dentro daquilo que é a nova forma institucional de participação no conflito, que são os partidos políticos, no fundamental.
Em relação às políticas públicas na habitação, ali no período do PREC e posteriormente, qual é o papel do SAAL e quais são as forças políticas que o propuseram, que o defenderam, e quem é que esteve contra ele?
O SAAL é quase um filho ilegítimo, em certo sentido, porque, com o Nuno Portas [secretário de estado da Habitação e Urbanismo nos primeiros três governos provisórios] irá dizer, verdadeiramente nenhuma força partidária o defendeu de forma muito significativa, exceto talvez a UDP.
A UDP foi mesmo no quadro parlamentar a força política que mais defendeu o SAAL. O SAAL, na verdade, nasce de uma discussão que é tida por um conjunto de arquitetos e urbanistas que tinha feito a sua formação nos anos 60 e 70, que tinha percebido, mesmo no quadro das instituições do Estado Novo, as limitações do regime e que tinha até se politizado e entrado na oposição ao regime a partir das questões da habitação e muito inspirado, enfim, nas experiências do John Turner e também nas experiências do INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), dos arquitetos italianos. [O SAAL] é a ideia de que as populações podem utilizar os seus próprios recursos, nomeadamente aquilo que o Portas previa era a autoconstrução, a capacidade das pessoas que vivem nos bairros degradados e de barracas de utilizar a sua força de trabalho para construir a habitação.
Mas o SAAL tem um bocadinho mais do que isso. Tem a ideia de que as pessoas têm que se organizar e, portanto, na verdade, ele é um dispositivo de organização dos pobres da cidade para disputar a apropriação da cidade. E também tem esta dimensão de que os processos de realojamento não são feitos nos espaços periféricos, as pessoas não são tiradas do interstício da cidade. A curraleira, que ficava no centro da cidade, não é tirada para as periferias. As pessoas têm direito aos solos urbanos nos quais fizeram as suas casas, para não libertar esses solos para eventual especulação imobiliária.
Também é muito discutido no seio dos arquitetos se o SAAL é lançado de alguma forma para travar ou enquadrar o movimento das ocupações. O Gonçalo Byrne chega a dizer isso em 1976, que se tinha medo que o movimento das ocupações transbordasse e que isto foi uma forma de acalmar o movimento popular. Esta discussão vai-se mantendo. E há sempre uma grande discussão sobre a ambiguidade do SAAL. De que verdadeiramente quer apropriar-se da cidade ou está só a domesticar o movimento dos moradores.
A argumentação do Portas é que era preciso, ele diz, no momento em que as forças da reação estão momentaneamente paradas, fazer uma articulação entre diferentes segmentos sociais dos mal alojados da cidade. O Portas sonhava que vinham as comissões de moradores dos bairros de barracas e vinha uma classe média trabalhadora, classes trabalhadoras, mas não necessariamente lumpen, por assim dizer, que iria trabalhar pela dimensão das cooperativas de habitação. Tinha-se aqui uma aliança transclassista para, no momento em que há uma fragilidade dos proprietários, disputar a apropriação do Estado e tomar a ideia, que no fundo, é a socialização das políticas públicas. O povo a entrar pelas políticas públicas adentro.
Depois, nos anos 80, ele [Nuno Portas] vai ser muito próximo do socialismo autogestionário francês e esta é a ideia do socialismo autogestionário que pode ser construído a partir destas políticas. Mas depois, quando o regime é institucionalizado a partir de 76 com a Constituição, o Partido Socialista faz automaticamente o cancelamento do SAAL. Mais nenhuma operação vai ser lançada, [o PS] diz que, na altura, o que é necessário é combater os clandestinos (mas era impossível combater os clandestinos sem dar habitação às pessoas). No fundo, é o Partido Socialista que mata o processo SAAL e mesmo o PCP, apoiando as operações SAAL que estão no território, acha que este modelo mais autogestionário, e até porque os técnicos que estavam nas operações SAAL, muitos vinham de organizações da esquerda extra-parlamentar, defendia o SAAL, mas não se atirava à luta por ele.
O SAAL acaba por não ser defendido por ninguém e encerra-se em 76 com operações construídas e outras que tinham-se já lançado no terreno. Eu e o Ricardo Santos vimos isso em Lisboa, que quem começou a construir até 76 conseguiu ter um bairro, a partir de 76, quem não tinha começado a construção, já não conseguiu avançar com as operações.
A nossa Constituição, ao contrário de outros países da Europa (Itália e Grécia), inclui o direito à habitação. Quais eram as posições dos partidos na Constituição sobre o tema e como é que eles interagiam com os movimentos sociais?
As discussões, quer sobre habitação, quer sobre poder local, estão muito ligadas ao próprio processo da Constituinte durante o verão quente, depois do 25 de novembro e vai sendo ritmado um bocadinho por isso. Há uma grande desconfiança do arco que vai do PS, PPD-PSD, ao CDS, em relação às organizações populares. Há sempre uma tentativa de não permitir que as organizações populares fiquem, de alguma forma, constitucionalizadas com um conjunto de direitos de participação e de decisão política em espaço próprio.
Nas políticas de habitação, há um debate sobre como é que isto se vai fazer. Uma das coisas que vinha do debate da especialidade e que vai depois para o debate em plenário era a ideia da nacionalização dos solos urbanos e a possibilidade de construir um Serviço Nacional de Habitação, semelhante a um Serviço Nacional de Saúde. Mas depois, no debate que é feito ali em plenário, essas propostas acabam por cair. Na ideia de um Serviço Nacional [de Habitação], o Partido Socialista vota contra porque entende que as várias empresas de construção que tinham vindo a ser intervencionadas, por causa da fuga dos seus proprietários, eram já um instrumento do Estado. Portanto, argumenta que não vale a pena ter um serviço próprio de construção. Em relação à nacionalização dos solos, diz que não precisamos nacionalizar tudo, que podemos ir expropriando à medida que for necessário.
Há um debate muito interessante entre o PPD [PSD] e a esquerda. Há uma intervenção da Helena Roseta que tem os ecos de uma leitura sobre o que é a propriedade habitacional que continuamos a ter hoje. É a ideia de que se as pessoas forem donas da sua própria casa, têm um ativo, por assim dizer. Ela não usa esta palavra na altura. A expressão dela é de poder ter esperança no futuro do país e ter algo por que lutam.
O PPD faz uma proposta de criar um mandato constitucional, um comando constitucional, para que os inquilinos se possam tornar proprietários da sua casa. Algo que o Vital Moreira, numa outra vida, quando era deputado do PCP, diz que a questão não é a propriedade, a questão é a produção de casas. Primeiro, as outras constituições têm direito à habitação, por exemplo, Espanha tem. Não tem é uma espécie de formulário de como é que isto se resolve. Quando nós vamos olhando o que vai ser o artigo do direito à habitação, o artigo da Constituição que ficou em 76 é uma espécie de inclusão de propostas que vêm dos diferentes partidos: a regulação de rendas de acordo com os rendimentos das pessoas; o Estado é responsável por prover habitação; as populações e as comunidades locais podem eventualmente participar na resolução dos problemas; e o Estado tem também a obrigação de criar políticas que permitam às pessoas aceder à propriedade habitacional. Como um deputado do CDS diz, é o primeiro passo para o fim dos grilhões que os acorrentam à sua condição proletária. O Adelino Amaro da Costa diz uma coisa mais ou menos deste género. Portanto, é uma justaposição das várias propostas e dos vários modelos.
A estranheza na democracia portuguesa é nos termos na Constituição parece estar uma ideia de que a habitação é um direito da cidadania democrática e ele é semelhante aos outros direitos sociais, o direito à saúde e ao direito à educação. Mas depois quando olhamos para aquilo que foram os níveis de provisão pública durante a história da democracia, o pilar da habitação é um pilar menor, que nunca conseguiu nada de comparável ao que se conseguiu na educação e na saúde ou sequer aquilo que era o modelo na altura, nomeadamente do Partido Socialista, de outras democracias no norte da Europa. Cria-se uma história específica.
O PCP é um partido que sai da revolução com um fortíssimo peso na Área Metropolitana de Lisboa. Por exemplo, se nós formos ver a tese da Raquel Varela, “A História do PCP na Revolução dos Cravos”, o partido durante o PREC foca-se em guiar algumas áreas políticas: o sindicalismo, a reforma agrária e na política externa, a independência das colónias. Há uma certa ausência da política urbana e da habitação.
Qual é a dinâmica entre a classe como uma base política e o urbano como um espaço para o PCP neste período? O PCP tem um modo de operar diferente a nível municipal dos outros partidos comunistas da Europa ocidental nesta altura?
A estranheza no PCP é não haver, desde os anos 60, nenhuma linha de reflexão teórica ou política sobre o que é que significa o processo de metropolização. O PCP na verdade constroi uma espécie de identidade cultural e até teórica, eu diria quase emotiva, sobre o desenraizamento. Ou seja, a cidade é o desenraizamento.
A cidade é o abandono dos campos e da vida comunitária, onde a cultura popular pulsava de forma saudável e vive nas classes trabalhadoras. E a cidade é um espaço, de privação, de desenraizamento.
O PCP tem de forma muito clara a percepção de que é necessário dar uma resposta habitacional às camadas trabalhadoras que vivem nas metrópoles em péssimas condições. Tem, de uma forma absolutamente clara, a percepção de que a resolução está em grande medida em ter uma política interventiva sobre os solos urbanos. Ou seja, quem controla os solos urbanos controla o processo de urbanização. Mas o PCP nunca vê o espaço urbano como espaço de constituição de um sujeito político que possa fazer uma batalha verdadeiramente transformadora.
A estranheza é que o livro do Álvaro Cunhal (O Partido com Paredes de Vidro), mesmo com uma mancha significativa de autarquias do PCP, praticamente não falar do movimento dos moradores pobres e praticamente não fala da experiência autárquica do PCP. Está sempre centrado na batalha sobre a configuração do regime.
Nós temos uma espécie de uma lógica de governação melhorista. Melhorista no sentido em que as reivindicações do PCP são um conjunto de medidas, obviamente todas elas desejadas para melhorar a vida das pessoas que vivem nas cidades, mas uma ausência da percepção de que na cidade pode constituir-se um movimento que politize a desigualdade, que tem que estar claramente vinculada àquilo que são as relações sociais de trabalho. Eu faço uma interpretação de que o voto comunista nas periferias de Lisboa não é só por causa das relações na fábrica, é também por causa das relações na cidade.
Há consciência do que aconteceu exatamente com os outros partidos comunistas na Europa, mas que o PCP não leva a politização do espaço urbano até às suas consequências. E há alguns sinais. Por exemplo, o PCP não apoiou de forma explícita o movimento das ocupações. Pelo contrário, teve alguns momentos em que as criticou, muito também pela perceção que havia, de que no período de transição não se sabia exatamente o que ia acontecer ao PCP. Foi legalizado, mas isso podia voltar para trás.
O PCP queria credibilizar sempre o espaço de conflito democrático, não queria afrontar pelo lado dos movimentos as relações de propriedade, queria utilizá-las a partir do Estado, mas não utilizava os movimentos como massa de pressão nessa batalha, por receio que a coisa pudesse correr mal e sempre com muitas críticas aos partidos mais à esquerda por essa mobilização. Em certa medida, o PCP não deixa de contribuir para uma certa despolitização do que era a desigualdade nos espaços urbanos, exatamente por não dar espaço de participação.
Quando nós vamos olhar para as autarquias e o que foi o seu processo de governação, Mértola teve uma experiência de PDM aparentemente muito participativa. Eu conheço mal esse processo, porque estudei a Área Metropolitana de Lisboa, mas aquilo que há na literatura é que ao nível de participação das populações e dos técnicos foi um processo quase exemplar. Mas nas periferias de Lisboa há muito poucos sinais de que as populações foram chamadas a participar diretamente, por exemplo, nos processos de planeamento. Portanto, o PCP assume a representação das classes populares, mas é dentro das instituições, sem grande movimentação social cá fora e sempre na primazia das relações de classe que são construídas exclusivamente nos espaços de trabalho.
Comparando com os outros partidos comunistas, a Itália é uma experiência diferente. A Itália tem uma configuração de pertença de classe que levaram o partido italiano a ser mais heterodoxo e teve experiências absolutamente extraordinárias. Bologna é sempre o exemplo. O Partido Comunista Francês, pelo contrário, também era mais ortodoxo como o PCP e mais centrado, também porque a classe operária em Paris era a sua representação. Enquanto em Itália havia segmentos de pequena burguesia e de classes médias que tornavam o partido mais heterodoxo.
Chamas no teu livro a década de 1980 de “década perdida da habitação”. Quais vão ser os seus desfechos?
Há ali um impulso que é dado durante um PREC e que ainda se aguenta durante um bocado, mais ou menos entre 1977 e 1979, em que depois não são lançadas novas formas de construção de stock público habitacional e nos anos 80 chega a AD. Há uma travagem naquilo que era esta ideia de que era necessário construir casas para as pessoas. Na verdade, entre a AD e o Bloco Central é quando nós temos uma espécie de inversão entre as prioridades que o regime deveria ter para responder ao desafio urbano.
O regime tem uma leitura da privação habitacional no seu início, em 1976, de que há dois problemas. Há desigualdade social e há desordenamento. Na verdade, estas categorias já vinham da leitura que era feita pelos especialistas durante o Estado Novo, mesmo dentro das instituições do Estado Novo.
E o PREC, que mais ou menos o que diz é necessário responder à desigualdade social, dar habitação às pessoas, é a única forma de ter mecanismos interventivos de sua propriedade familiar e na construção de casas para combater o desordenamento, nomeadamente a expansão dos clandestinos. Quando chega a AD e depois no Bloco Central começa a ser preparado o primeiro pacote de regulação de ordenamento e de planeamento do território. E depois há aquela espécie de inversão. À medida que as políticas de redistribuição vão retraindo, as políticas de planeamento vão aumentando. Ou seja, há uma reconfiguração de qual deve ser o papel do Estado. O Estado deixa de ser o provisor do direito de habitação e passa a ser essencialmente um regulador do mercado.
Quando olhamos para os anos 80 é mais ou menos isso que acontece. No final dos anos 70 fecham-se algumas tentativas de dar habitação pública e começa a ideia de que o Estado tem que ter um mecanismo de regular a forma como a iniciativa privada vai sendo feita.
Agora, esta é a década de grande expansão dos clandestinos, que arranca também no final dos anos 70 e nos anos 80 espalha-se pelas periferias. Há um número que eu acho que tenho lá escrito [livro “A Cidade Democrática”], do Fonseca Ferreira, no ano 1975, salvo erro, era 70% ou 80% da nova Constituição Habitacional que foi lançada foi pelas famílias. Ou seja, são as pessoas que estão a tentar arranjar a sua própria resposta.
Uma das teses principais do livro é como a habitação e a política urbana vão sendo despolitizadas e passam a ser um mero problema de ordenamento. O que se passa aqui? Quais as consequências dessa mudança de debate para os dias de hoje?
A tese, como eu às vezes digo, é uma tese mal conseguida porque tenta explicar uma coisa que não aconteceu. Ou antes, porque é que uma coisa morreu? Porque é que uma determinada politização simplesmente desapareceu não é fácil.
Na verdade, é isso. As comissões de moradores são, de alguma forma, acantonadas como se fossem a massa de combate pela ideia da democracia popular. Uma vez derrotadas no 25 de novembro, aparentemente, nenhum partido depois vai pegar fortemente nessa capacidade de mobilização. E à medida que entram os anos 80 e, em particular, com as intervenções do FMI e com a chegada da AD e do Bloco Central, vamos percebendo que há uma retração do Estado em relação a essa intenção de ser um elemento importante de provisão habitacional, muito também em torno desta ideia da constituinte de que, na verdade, as pessoas querem ser donas da sua casa.
E, passados estes anos todos, continuamos muito em torno deste debate. Ou seja, nós tivemos, depois, camadas que se somaram a isto. Em torno da propriedade dos clandestinos, em cima disso, apareceu a propriedade que foi criada pelo processo de financiarização da habitação. Hoje, a propriedade habitacional das pessoas que são ocupantes da casa própria é esmagadora no país e isso dificulta formas de intervenção da propriedade. Quando olho hoje para a sociedade portuguesa e para a crise habitacional, eu penso sempre nessa leitura de que os partidos muitas vezes fazem, que é qualquer coisa que mexa com este modelo muito centrado sobre a família proprietária da sua casa tem que se contrapor à história de um país em que as pessoas melhoraram os seus níveis de vida, a forma como os seus rendimentos, o acesso a serviços, mas tudo isto às vezes muito ligado à ideia de que compraram a sua casa.
É um mecanismo que acham que é uma conquista, é algo que deixam aos filhos, é algo que é uma segurança para um momento de aperto. Desarticular esta espécie de ideologia da casa própria é algo particularmente difícil. E isso vai-se notando em pequenos casos que acontecem, como o que aconteceu durante a pandemia em Odemira, com os migrantes que necessitavam de ficar em habitações que, na altura, eram um alojamento turístico e nem estavam a funcionar. O tipo de debate que houve em Portugal sobre a ideia de mexer na propriedade habitacional mostra o quão enraizada está esta ideia, porque foi a história de muitas famílias. Chegaram à cidade para trabalhar, meteram os filhos na escola, vacinaram, acreditam até no Serviço Nacional de Saúde e na Escola Pública, mas compraram a sua casa.
E como isto está tão profundamente enraizado, eu creio que nós hoje temos um grande desafio político porque o mercado, nesta ideia da compra própria, claramente deixou de funcionar e formas de regulação sobre isto é algo que é difícil de discutir.
Passando para o presente, Portugal vive uma incontestável crise de habitação. Quais são as suas principais diferenças face aos períodos analisados do livro e quais as consequências em termos de mobilização política e criação de uma base social?
Eu acho que uma das coisas que nós temos hoje a perceção, se calhar isto acontecia noutros países antes, é que em Portugal a habitação tornou-se transacionável. Ou seja, nós temos fluxos de investimento e de procura que não tínhamos antes da Grande Crise Financeira. Já tínhamos, obviamente, alguma procura de estrangeiros, do Algarve e até em Lisboa, mas nada semelhante àquilo que aconteceu depois da Grande Crise Financeira e isso cria uma enorme dificuldade porque é a tal disparidade entre rendimentos. Pessoas que têm rendimentos noutros países que são muito superiores e que têm aqui acesso à habitação, compra da habitação, compra para investimento e para rentabilização que a maior parte dos trabalhadores portugueses não têm. Essa é uma mudança, creio eu, muitíssimo significativa.
Depois criamos outro problema. Apesar de tudo, nós estávamos habituados a estudar quais eram as necessidades de habitação em função de um quadro mais ou menos estável, porque as procuras eram internas, ou seja, conseguíamos perceber que a área metropolitana ainda vai atrair mais não sei quantos trabalhadores. Agora, este tipo de procuras parece que é um saco sem fundo, verdadeiramente não sabemos o que é que vai acontecer.
E como é que isto se resolve? Eu devo dizer, eu conheço mal os tipos de investimentos de grandes investidores de fundos imobiliários no mercado habitacional português. Continuo a achar que é uma das dimensões de dados e de conhecimento que nós temos maior dificuldade em perceber. Têm surgido alguns estudos que analisam: esta empresa fez este investimento, comprou estas casas, está a colocar a arrendar ou para alojamento turístico, mas são casos individuais.
A percepção que eu tenho em Portugal é que o mercado habitacional, pelo contrário, é muito mais fragmentado de pequenos investidores de diferentes tamanhos. Mas eles significam um valor significativo de aquisições de stock habitacional ao longo dos últimos anos todos somados. Alguém que compra uma habitação para arrendar, alguém que compra dez habitações para arrendar, uma pequena empresa que coloca um pequeno hotel, ou seja, mas está muito mais fragmentado. E a perceção que há é que este tipo de investimentos veem rentabilidades, e veem rentabilidades que não veem de outros sítios. E começa desde a família que tem algum capital disponível, que ainda pode pedir um empréstimo, porque acha que vem alguma coisa dali e não virá tanto dos salários nem das pensões. Ou até mesmo de um investidor com um volume mais significativo.
Quando eu olho para isto, o que é que eu penso? Bom, então é necessário retirar as rentabilidades. Nós precisamos de tornar desinteressante este tipo de investimento para que o valor das casas não continue a crescer de forma significativa. E em relação aos usos para alojamento turístico, para que volte a ser utilizado para a habitação dos trabalhadores que fazem a economia metropolitana.
Como é que se cria uma mobilização? Eu acho que nós hoje temos um conflito que não tínhamos no passado. Há um texto de um arquiteto que é o Luís Jorge Bruno Soares, em 1978. Eu gosto muito do texto porque ele faz uma análise de classe sobre o processo urbano. E ele diz uma coisa que é a partir do final dos anos 50-60, mas na verdade eu acho que isto é extensível. Há uma transformação histórica nunca antes vista sobre a estrutura de propriedade fundiária na Área Metropolitana de Lisboa. Há uma fragmentação da propriedade fundiária, há não sei quantos atores que nunca tinham tido propriedade e que compraram. Mas o que ele diz é que o mercado está organizado de uma maneira em que nada disto, na verdade, desarticula as desigualdades sociais. Cada um compra no segmento de mercado que consegue verdadeiramente comprar. Temos esta estrutura de desigualdade que permeia, na verdade, a forma de propriedade na Área Metropolitana de Lisboa.
No debate sobre a política habitacional portuguesa, nós temos que ter uma intervenção sobre a questão habitacional que não desperdice, como se desperdiçou no pós-25 de Abril, a ideia que a desigualdade estruturada pelas relações de propriedade se vai perpetuar e que isto vai dar resposta a toda a gente. Porque na história do regime nós temos os clandestinos, depois temos a financeirização, mas continuam pela mesma lógica de desigualdade. Há uma oferta de mercado para todos, mas cada um fica no seu galho.
O que é novo hoje é que já há uns que estão cá fora. Em particular, são classes médias. São classes médias que têm uma leitura da sua vida que é: eu fiz formação, tenho trabalho, tenho direito a um certo desafogo. E hoje, pela primeira vez, esse mercado já não está segmentado para as diferentes necessidades. Há segmentos que claramente não têm oferta, não conseguem aceder.
E isso cria uma fissura, eu acho, principalmente dentro das classes médias. E eu acho que a classe média é a classe pivot das democracias liberais. Se há interesses irreconciliáveis dentro da classe média, o regime tem um problema. E a ideia é aproveitar esta oportunidade exatamente para desestruturar esta lógica da escadinha. De cada um cá com no seu galho e, portanto, reestruturar as relações de propriedade.
A ideia de expandir o parque público, algo bastante exótico na realidade portuguesa neste momento, tem ganho algum peso no discurso da esquerda, principalmente institucional. É uma medida suficiente? É substancial para resolver a atual crise?
Eu acho-a muitíssimo desejável, e acho-a totalmente incapaz de resolver a crise que temos. Nós necessitaríamos de uma construção de um tal valor para que, eventualmente, o stock público de habitação tivesse alguma capacidade de influência nos preços do mercado, que eu acho que é totalmente disparatado dizer que o stock público de habitação vai resolver a crise que temos hoje. Não vai.
No Reino Unido há o Collaborative Center for Housing Evidence, que é um centro que agrega diferentes instituições, universidades, think tanks, etc. Eles têm um estudo em 2019, que fazem daquelas coisas que a Economia faz: qual é o impacto de 1% da oferta no mercado na redução dos preços de mercado? E aquilo, fazendo um apanhado de vários estudos, é que 1% da crescimento da oferta terá um impacto, de 1,5% ou 2% na redução dos preços, quer da aquisição, quer do arrendamento.
Mas tudo aquilo são aquelas ciências, às vezes, difíceis de perceber exatamente. Mas, portanto, em Lisboa, para termos uma descida, digamos, de 20% nos preços da habitação, precisávamos de ter já, já, 35 mil habitações de parque público, para ter algum impacto. É totalmente irrealista. Precisamos, obviamente, de stock público, de o ir construindo para o futuro, mas ele não vai, claramente, resolver o problema da crise habitacional hoje.
Por vezes, no teu livro, ficamos com a sensação de que tu argumentas que o Estado Central, principalmente as governações mais ao centro, atrofiou a política municipal. Não sendo o foco do teu livro, consideras que a regionalização poderia ser um instrumento útil para estas tendências? Perguntamos isso porque grande parte das medidas elogiadas mundo afora são feitas ao nível local: Viena, Paris, Barcelona, Amesterdão. É esse instrumento que nos falta, na institucionalidade?
Na verdade, o Estado Central serviu de bloqueador das tentativas de resposta de alguns poderes municipais que tinham vontade mais interventiva sobre a propriedade fundiária. Os pedidos de expropriação, nomeadamente, ficaram enterrados nas gavetas. As tentativas de planeamento concelhio ficaram enterradas nas gavetas.
O Estado Central, na verdade, poderia ter perfeitamente funcionado se, politicamente, não tivesse uma orientação de não mexer na propriedade. É sempre a leitura sobre qual é a orientação. Eu acho que a regionalização é uma dimensão fundamental de organização local, de economias que têm uma lógica, de facto, de funcionamento regional.
E que depois pode, à volta desse modelo de envolvimento económico regional, ter o conjunto de outros instrumentos de provisão pública e de planeamento e de proximidade das populações. Ao mesmo tempo que constitui massa crítica, porque tem poder de decisão, dentro dessas mesmas regiões. Eu acho que é um momento de democratização, de aprofundamento democrático do regime português. Eu acho que sim, acho que é o que faz sentido. Mais proximidade, maior capacidade de conhecimento do território. Os planeadores que faziam a crítica do Estado Central faziam muito essa ideia. O território não é uma folha que se vão colocar as coisas. Não, é uma coisa viva e, portanto, é preciso conhecê-lo.
No debate público, frequentemente fala-se das duas metrópoles portuguesas como zonas opulentas, que recebem grandes investimentos, em detrimento do resto do país, o interior esquecido. No teu livro, e atualmente, é nestas que se acumulam os grandes problemas da habitação. Como é que podemos conciliar estas duas narrativas?
Essas áreas metropolitanas sempre foram os sítios em que houve maior desigualdade social. Como o PRR dizia, há bolsas significativas de pobreza nas áreas metropolitanas e elas continuam a fazer-se sentir. Quando se fala dos investimentos em Lisboa (área metropolitana), nomeadamente em habitação social, em que se dizia, ”mais uma vez em Lisboa”. Sim, mas é, de facto, onde existem as maiores carências.
O que nós necessitamos, creio eu, nas outras regiões (e para dizer a verdade, essas entrevistas seriam melhor feitas ao José António Bandeirinha ou ao José Reis) é de uma outra lógica de capacitação urbana, que não seja necessariamente a habitação, nas capitais de distrito, que criem uma malha das tais cidades médias de que eles estão sempre a falar, que permita a sustentação do território, das economias regionais, dessa mesma vida urbana, que crescentemente, eu creio, que se vai esvaindo.
Vemos, não só nos debates citados no teu livro, a tese de que o problema de Lisboa é a população excessiva da metrópole e o apelo a uma espécie de regresso ao campo. Ao invés de se lidar com o problema da cidade, que está a ser constantemente pressionada, deve-se conter esse fluxo. Passadas quatro décadas, com uma população ainda mais concentrada em Lisboa e noutras grandes cidades (numa tendência em linha com o Espanha e a maioria dos outros países desenvolvidos) estamos destinados a ter para sempre este debate?
Infelizmente, aparentemente, sim. Eu gosto daquela frase que o Portas usava, de que é preciso dar esperança à província, que é uma frase tão novecentista. Mas é a ideia do que o Le Corbusier também tinha: se queremos urbanizar as cidades, temos de ordenar o campo.
Ou seja, há um equilíbrio na estrutura territorial do país que foi sempre desrespeitado. E é o tal ciclo vicioso de que o Portas fala muito. O Portas aborda sempre a metrópole como um problema, um problema que é preciso estancar, este ciclo vicioso. De que só temos investimento em Lisboa para responder às populações que chegam, e com esse investimento chamam-se mais pessoas e apoiam-se capitais e dão-se, na verdade, formas de estruturação de infraestruturas que também atraem capitais, que depois atraem mais população.
Temos um conjunto de territórios esvaziados e é por isso que estamos a discutir porque é que em relação ao tempo de 25 de Abril nós hoje temos áreas imensas de floresta que são só constituídas por eucaliptos, que é aquela estranheza do que aconteceu ao território.
Eu às vezes penso que sim, porque o debate de regionalização ficou completamente enterrado. Qualquer lógica reformista de um debate de reorganização administrativa ou de formas de capacitação das regiões fica preso numa discussão meio bairrista de reivindicação em relação a Lisboa. Aparentemente o campo de conflito democrático não é capaz de criar um espaço de debate sobre um modelo de desenvolvimento e planeamento do país que tenha uma dimensão territorial de uma forma democrática, em que há diferenças de opinião, vamos discuti-las, mas com um determinado propósito de transformação. Aparentemente deixamos de ser capazes de fazer isso. Se não fizermos no passado, não sei se vamos fazer no futuro.
Atualmente em Espanha temos assistido a fortes mobilizações populares em torno da questão da habitação, por causa do aumentos dos preços. Em termos quantitativos, Espanha está numa situação, digamos, menos pior, face à portuguesa. Ao analisarmos o crescimento de preços, nós podemos dizer que talvez fosse o equivalente a Portugal em 2017-2018. E o Governo de Espanha, que é um Governo entre o centro-esquerda e a esquerda, está a propor medidas de combate.
De grosso modo, seria equivalente ao Mais Habitação espanhol tivesse chegado em 2017-2018. Em retrospetiva, podemos dizer que um dos falhanços da Geringonça não foi impor o seu Mais Habitação em 2015, quando todas as procuras externas e os interesses associados eram muito mais pequenos? Isto pode parecer fazer previsões no dia seguinte, mas quando olhamos para os dados do aumento dos preços da habitação no último trimestre de 2015, face aos salários e tudo mais, já se notavam os sinais de um crescimento exagerado.
Já, mas eu creio que em 2015, 2016, 2017, havia a perceção de que estava a ser criado um consumo de atividades económicas, nomeadamente o turismo, que é muito significativo pelo emprego que gera, e que esse setor era muito importante para responder aos restos do desemprego que tinham vindo da crise. A certa altura, o imobiliário, por um lado pela atração de investimento e o setor turístico, são entendidos como um mal que era necessário aguentar para se poder regressar ao crescimento económico e criar emprego em massa.
E, de facto, assim é. Olhando, eu acho que é um novo regime de crescimento que se criou em Portugal, no pós-crise, assente no imobiliário e no turismo. O que não é compreensível é quando, em 2017, 2018, os indicadores já eram absolutamente óbvios do que é que estava a acontecer e quais eram os riscos que se colocavam, em que o aumento dos preços da habitação viessem a criar novas dificuldades, desigualdades no campo da habitação e dificuldades às outras atividades económicas, ele não tenha sido travado pelo Partido Socialista. No quadro da Gerigonça eu creio que havia do PCP e do Bloco [de Esquerda] essa clara disponibilidade para fazer essas alterações e intervenções mais musculadas.
Mesmo se, na altura, por exemplo, em 2017, eu lembro-me que achava que a criação do stock de habitação pública era a resposta e que não havia outra e era absolutamente óbvio que seria assim, com alguma regulação, nada do outro mundo e o Partido Socialista não quis.
Sucessivamente, eu diria que os Ministros das Finanças não o quiseram. Todo o debate que tivemos ao longo destes últimos anos de 2017 até agora, sobre Vistos Gold, residentes não habituais, são as coisas mais óbvias. Há coisas difíceis de fazer, há coisas que são relativamente óbvias e mais fáceis de fazer, acima de tudo porque é difícil perceber quais são os benefícios de termos esta indignidade de fazer uma borla fiscal às pessoas que vêm trabalhar para cá com salários extremamente elevados. Há um mínimo de dignidade que um país tem que ter e o Partido Socialista, eu diria na altura de Mário Centeno, que inviabilizaram essas mesmas medidas e acho que é um falhanço. O maior falhanço do Governo do Partido Socialista porque permitiu um agravamento da situação a níveis absolutamente incomportáveis.
TEXTOS RELACIONADOS DESTA REPÚBLICA
Pensar, escrever, editar e publicar exige tempo. Nós, os Pijamas, fazemo-lo à margem das nossas rotinas laborais, numa lógica de participação no espaço público - sobretudo, para desconstruir a narrativa do economês dominante e reflectir sobre alternativas para a nossa vida colectiva. Se gostaste do que leste, subscreve e partilha a nossa newsletter e os nossos artigos. Esse é o maior apoio que nos podes dar.